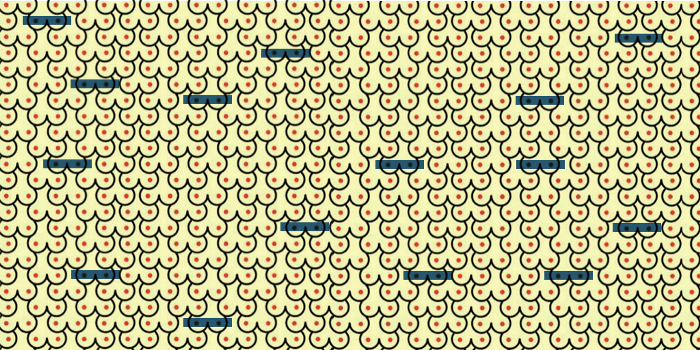Vale do Silício e sua “proteção” à comunidade
#blogpost #feminismos #liberdade de expressão #privacidade #violência de gêneroColonialismo, censura e fim do anonimato
Por Paz Peña O. e Joana Varon | Boletim Antivigilância n.14
“Tenho aqui uma notícia para você, Facebook: há um milhão de razões pelas quais alguém escolheria se auto-identificar com um nome que não é o que está impresso na sua certidão de nascimento. Na verdade, nem é algo que lhe diga respeito”. Essa foi a reação de Dan Tracer en Queerty ao conhecer como a nova politica de “nome real” afetava diretamente a comunidade LGBT. A polêmica começou no final de 2014, quando um contingente de contas do Facebook de drag queens foram bloqueadas depois de ter sido denunciadas de forma anônima por não utilizar seus “nomes reais” na rede social.
Facebook justificou a politica de solicitar nomes reais aos seus usuários já que, segundo eles, uma identificação autêntica (entendida aqui como a que aparece nos documentos oficiais) evita a intimidação feita por anônimos para assediar, enganar ou participar em comportamentos criminosos.
A medida é problemática por muitas razões. Como foi denunciado por diversos ativistas, a política atenta contra os direitos especialmente de comunidades não hegemônicas e vulneráveis, como pessoas transgênero, vítimas de diversos tipos de violência, minorias étnicas, entre outras. E ainda que o Facebook tenha se mostrado compreensivo e disposto a fazer mudanças, as medidas parecem ser insuficientes e mesmo assim, a companhia continua a se atribuir o poder de determinar que identidades são ou não válidas, descartando por completo a ideia de anonimato.
Chegando a este ponto da discussão, é necessário se perguntar sobre a evidência na que se baseia o Facebook para insistir em não fazer alterações profundas na política de “nome real”. A pergunta se torna ainda mais relevante à luz, por exemplo, da recente pesquisa da Universidade de Zurich que revelou que os comentaristas de petições online que mais utilizam linguagem abusiva são, na verdade, mais propensos a utilizar nomes reais. Os pesquisadores disseram que os comentaristas não encontram nenhuma razão para utilizar um nome falso quando querem defender o que acreditam ou fazer notar fortemente um ponto na discussão.
Se a evidência sobre evitar comportamentos rejeitáveis na comunidade é discutível e as demandas de grupos como drag queens demonstram as consequências indesejáveis desta política, por que o Facebook continua insistindo nela como um pilar para a comunidade de usuários da rede social?
VELHAS E NOVAS PRÁTICAS COLONIALISTAS
Que não nos enganemos: que as minorias étnicas tenham de mudar seus nomes para que sejam compreendidos como “nomes ocidentais” ou que pessoas LGBT devam informar a uma empresa privada seu sexo biológico não é uma consequência negativa marginal da política do Facebook. É, muito pelo contrário, uma política segregadora que, ao persistir, terminará marginalizando a toda pessoa dissidente aos valores de Facebook que, ao que parece, não é diferente dos abraçada pelos homens brancos do Vale do Silício.
As práticas segregadoras que usam como desculpa a identificação das pessoas tem um arraigo histórico nos processos colonizadores. Sobre isso sabemos muito na América Latina. Desde a evangelização católica na época da Conquista que forçou indígenas de todo o continente a alterar seus nomes por nomes católicos (com a nomenclatura nome-sobrenome), à permanente discriminação que até o dia de hoje termina obrigando, por distintos motivos, em lugares como por exemplo Bolívia ou Colombia, a que pessoas com nomes indígenas terminem por modificar-los.
Essa segregação baseada no “nome real” não está longe da discriminação que sofrem no continente as pessoas transgênero e que levou a uma longa luta ativista para poder interagir cotidianamente com instituições públicas e privadas sem que sejam estigmatizadas. Isso levou a que, liderado por países como Argentina, recentemente se promulgassem leis que, com diferentes níveis, permitem o reconhecimento do direito à identidade de gênero e da transexualidade, assim como na Colômbia, Uruguay ou Bolivia.
Todas estas práticas segregadoras e colonialistas encontram um novo eco digital sob, desta vez, a figura das empresas dominantes do Vale do Silício às que se atribuem o poder de determinar que identidades e discursos são ou não válidos no reino dos valores smart.
OUTRAS POLÍTICAS
A implementação de políticas de “nome real” não tem sido a única medida controversa que empresas do Vale do Silício tem implementado visando lidar com situações do que denominam “discurso de ódio”. Recentemente, pressionados pela União Europeia para combater propaganda terrorista, Facebook, Twitter, Microsoft e Youtube (Google) assinaram um código de conduta para unificar formas de lidar com o tema. A base para todas as ações: suas próprias “Community Guidelines”. Ou seja, novamente, regras de comunidade elaboradas por empresas lideradas por homens, brancos, ricos, do Vale do Silício, os mesmos que consideram a política do nome real uma boa medida, passam a funcionar como forma de avaliar notificações sobre determinado conteúdo. A lista de erros que já foram cometidos resultando em censura ao aplicar tais políticas é infindável.
Se pensarmos apenas em questões de gênero, os exemplos já são tantos que fica dificil enumerar. São comuns relatos de vários episódios de censura de posts no Facebook e no Instagram (que pertence ao Facebook) de fotos de mulheres “acima” do peso1. A empresa alegou que tais imagens violavam sua política de publicidade no que diz respeito à saúde e fitness. O Instagram também não é muito fã de pelos púbicos femininos e menstruação. A artista paquistanesa Rupi Kaur teve fotos que retratavam sangue menstrual removidas. Fotos que mostravam mulheres com pelos púbicos aparecendo no biquini fizeram com que os posts de revista australiana Sticks and Stones fossem removidos do Instagram, enquanto que a artista Petra Collins teve sua conta deletada por uma foto no mesmo estilo, o que, segundo ela, não atendeu certos padrões sociais de feminilidade embutidos na plataforma. Embora esses casos tenham sido divulgados na mídia, são inúmeros outros casos de feministas que usam seu corpo e seus pêlos púbicos ou de outras partes para questionar padrões estéticos heteronormativos e patriarcais nas redes sociais. No Brasil, é o caso da artista Aleta Valente e de Tay Nascimento, ambas frequentemente censuradas pela plataforma. De fato, a mensagem não poderia ser mais evidente: imagens do corpo feminino como ele é, fazendo coisas naturais do corpo, não são permitidas, já as fotos que atendem a padrões de beleza compatíveis com as sociedade machista heteronormativa capitalista, seguem ganhando seus “likes”.
Outro exemplo são imagens de seios. Depois de várias reclamações sobre fotos de seios utilizadas para campanhas contra câncer de mama e de cenas de amamentação que foram censuradas, a empresa alterou um pouco suas regras, ressaltando que restringem imagens de seios femininos “apenas” se os mamilos estiverem a mostra, exceto em caso de amamentação ou fotos que mostram cicatrizes pós-mastectomia. Ainda assim, continuam recorrentes relatos de mães com suas fotos amamentando censuradas, e, obviamente, indo mais além, existem várias outras situações em que seios vem à mostra, seja em forma de protesto, seja como manifestações de cultura.
No Brasil, constantemente, fotos de várias versões da chamada Marchas das Vadias tem sido bloqueadas e, recentemente, a plataforma também deletou post com foto da capa do álbum da cantora Karina Buhr e um post da página do Ministério da Cultura, que continha uma foto de uma indígena botocuda com seus seios expostos. Em solidariedade, artistas se uniram no que denominaram uma ação-arte-manifesto publicando fotografias em preto e branco de 14 mulheres com os seios descobertos em banheiras vazias. Já a censura do MinC foi levado à justiça pelo governo brasileiro que destacou que a empresa estaria tentando impor seus padrões de morais e costumes ao Brasil de maneira arbitrária e ilegal. O pior, quando o tema é violência contra mulheres, inúmeras reclamações demonstram que a plataforma tem demorado bastante para remover o conteúdo infrator. E por denúncias de vingança, como no caso dos frequentadores da página “Orgulho Hétero”, o Facebook já chegou a retirar do ar páginas feministas como a “Feminismo sem demagogia“, “Cartazes e tirinhas LGBT” e “Moça, você é machista” e até mesmo uma página da famosa youtuber JoutJout, que produz vídeos sobre assédio contra mulheres e outras questões de gênero.
Enumeramos aqui apenas casos de empresas do grupo Facebook, simplesmente pela diversidade de exemplos que não estão nem próximos de terminarem por aqui, mas a situação não é tão diferente em relação as outras empresas. Tudo isso deixa evidente que talvez essa plataforma não seja mesmo o ambiente mais adequado para mobilização pelas causas de gênero, mas dada a visibilidade que a plataforma alcança por seu número de usuários, não se pode negar o papel que ela exerce como meio para exercício da liberdade de expressão. Mas, os exemplos aqui citados ilustram como deixar esse tipo de decisão nas mãos delas apenas dá margem para a manutenção de manifestações de assimetrias de poder, como o machismo, patriarcalismo e moralismo do que seria culturalmente aceitável (imposto por apenas uma cultura), numa forma de colonialismo digital.
Como bem ressaltou o grupo European Digital Rights (EDRi), que seguiu as negociações do código de conduta, a acordo delega para empresas privadas atividades que deveriam ser realizadas pelo Estado. Em um post destacaram: “este processo, estabelecido fora de um processo democrático, determina regras pouco claras sobre a responsabilidade de empresas. Também cria graves riscos para a liberdade de expressão, pois conteúdos que sejam legais, ainda que controversos, podem ser excluídos como resultado deste mecanismo de remoção voluntário e não transparente.”
DE CENSOR A PROMOTOR DE CONTEÚDO
Mas a coisa não para por aí. No acordo também esta previsto o comprometimento destas empresas em “educarem seus usuários”, o que inclui “identificar e promover contra-narrativas” ao que considerarem como discurso de ódio ou preconceito. O que significa que empresas que inicialmente funcionam como plataformas para viabilizar a divulgação de conteúdos de terceiros, passam agora a exercer também o papel de promotoras de determinados conteúdos, ou seja, não apenas tomam a responsabilidade de censurar o que acham que deve ser proibido, mas também passam a destacar certas visões de mundo que consideram que devem ser promovidas. Algo que podem fazer de maneira imperceptível, simplesmente manipulando seu algorítimo.
Em uma lógica colonialista, se o julgamento das redes sociais já causa inúmeras controvérsias ao avaliar nomes dos usuários e denúncias para remoção de conteúdos, imagine então quando essas empresas, com enorme poder de alcance, e conhecimento sobre gostos e práticas de seus usuários, passam a fazer esses julgamentos de forma ativa, promovendo conteúdos que vão de acordo com seus valores, sem que ao menos você perceba? Pois é isso que estabelece o acordo.
Para países do Sul Global como os Latinoamericanos, as consequências segregadoras que estes tipos de políticas privadas das empresas do Vale do Silício — sem o escrutínio nem participação da sociedade — criam particulares barreiras que devem ser trazidas ao debate mundial. Por exemplo, a possibilidade de que nossas comunidades possam simplesmente levantar uma reclamação contra políticas abusivas. Neste sentido, é inevitável pensar se o Facebook teria respondido com a mesma energia e prontidão como fez com a comunidade de drag queens de São Francisco, que com comunidades transgênero de países da América Latina, onde estas empresas às vezes nem sequer se preocupam em abrir uma representação legal.
O debate sobre este tipo de política e suas consequências segregadoras e de censura sobre os discursos dissidentes aos valores do Vale do Silício deve, necessariamente, sobrepassar as barreiras dos países desenvolvidos e se instalar nas diversas comunidades de nossos países. As particularidades de como estas políticas e condições de uso nos afetam estão ainda por ser estudadas e devem enriquecer uma discussão ainda centrada no Norte Global, assim como facilitar diversas formas de resistência locais contra políticas abusivas em nome da comunidade.
1 Sobre o tema, ver http://fusion.net/story/308326/aarti-olivia-instagram-bikini-photo-removal/ , https://www.theguardian.com/technology/2016/may/23/facebook-bans-photo-plus-sized-model-tess-holliday-ad-guidelines e http://jezebel.com/instagram-apologizes-for-deleting-plus-size-womans-acco-1605831194
Paz Peña é consultora independente na área de direitos digitais e comunicação estratégica para advocacy. É jornalista com mestrado em gênero e cultura na área de Ciências Sociais. Foi diretora de comunicação e de advocacy na Derechos Digitales. É membro do conselho colaborativo de Coding Rights.
Joana Varon é advogada e pesquisadora, fundadora e diretora da Coding Rights. Formada em Relações Internacionais com mestrado em Lei e Desenvolvimento, tem se dedicado a desenvolver pesquisas aplicadas para a discussão de parâmetros institucionais legais para inovação em TICs e ao mesmo tempo visando a proteção de direitos fundamentais e o direito ao desenvolvimento.